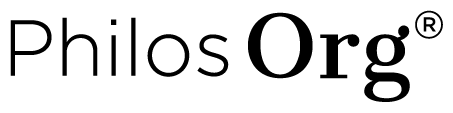Angustia e Ansiedade como constituintes da existência


A Angústia e a Ansiedade são muitas vezes entendidas como transtornos a serem combatidos por prejudicarem o bem-estar e a produtividade do indivíduo. A sociedade moderna se propõe a eliminá-las ou controlá-las, quando poderiam ser entendidas como elementos indissociáveis da condição humana e aliadas importantes do crescimento e da realização plena como indivíduo. Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do início do século XVIII, nos apresenta uma visão disruptiva no qual a Angústia se torna uma potência que nos move para a realização e o propósito, alterando o entendimento acerca da ansiedade e do desespero na modernidade.
Resumo
- A angústia é constitutiva da existência e consiste na dor do homem ter que tornar-se si mesmo, pois a existência traz consigo a tarefa de decidir e toda a decisão é cisão, ruptura. Mas a angústia é também o elemento que move nossa potência, pois é a partir dela que buscamos saltos para estados de maior realização pessoal e crescimento.
- As raízes da ansiedade se encontram nas reações de defesa dos animais em face de estímulos que representam perigo/ameaça. Freud utiliza o conceito de “ansiedade como sinal”, que considera a ansiedade como uma reação adaptativa a situações de perigo.
- A forma como a ansiedade nos acomete na modernidade é produto da sociedade contemporânea e está impregnada em sua própria estrutura de funcionamento e na dinâmica da relação entre as pessoas.
A angústia e a ansiedade tem sido objeto de interesse da Filosofia e da Psicologia há séculos, mas ainda persiste uma certa dificuldade de diferenciação entre ansiedade e angústia. Ambos os termos advém do verbo grego “agkhô”: eu aperto, eu estreito. Daí derivam no latim os verbos ango e anxio que significam aperto, constrição física e tormento. Quem nunca teve aquele aperto no peito que se pode sentir quase que fisicamente, mas que muitas vezes não conseguimos entender psiquicamente em sua totalidade?
Dados da OMS indicam que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo e que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como a ansiedade e a depressão, sendo a Síndrome de Burnout uma das doenças ocupacionais que mais causam afastamentos do trabalho. Os transtornos mentais e comportamentais ocupam a 3ª causa de incapacidade para o trabalho, correspondendo a 9% na concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (Secretaria de Previdência/Ministério da Fazenda/2017)
Os chamados “estados ansiosos”, enquanto quadros patológicos, só começaram a ser abordados de forma estruturada pela Psiquiatria com os estudos de Sigmund Freud no final do século XIX, quando ele diferenciou a “Angnstneurose” (“Neurose de Angústia”) da Neurastenia e a ansiedade crônica dos ataques de ansiedade. A visão psicanalítica Freudiana prevaleceu por muitos anos, mas a partir dos anos 1960 o desenvolvimento da psicofarmacologia impulsionado pela indústria farmacêutica trouxe uma nova abordagem, onde se busca classificar os estados de ansiedade por meio de critérios de diagnóstico em Transtornos a serem combatidos com medicamentos.
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM V estipula que “os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional a ameaça iminente real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça futura”. A Psiquiatria evolutiva entende que as raízes da ansiedade se encontram nas reações de defesa dos animais em face de estímulos que representam perigo/ameaça à sobrevivência, ao bem-estar ou à integridade física. Neste contexto, Charles Darwin influenciou Freud no conceito de ansiedade como sinal, que considera ansiedade como uma reação adaptativa a situações de perigo.
Mas não podemos falar de Ansiedade na ótica da Psicologia ou da Psicofarmacologia, sem antes refletirmos acerca do conceito de Angústia pelas lentes da Filosofia, notadamente sob o ponto de vista Fenomenológico Existencial. Soren Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês nascido em 1813, considerado o pai do Existencialismo, que nos anunciou um modo novo de fazer Filosofia, surgido da relação estreita entre existir como pessoa e a consciência desse existir, onde a existência não se constitui em algo metafísico, fora do homem, mas sim na existência dentro do próprio homem. Kierkegaard acreditava na busca por uma verdade subjetiva: “encontrar uma verdade que seja verdade para mim, encontrar a ideia pela qual eu esteja disposto a viver e morrer”.
Em um mundo que não controlamos e no qual não existe uma dimensão metafísica externa para nos salvar, a tarefa da existência se torna bastante complexa. Em “O Conceito de Angústia” de 1844, Kierkegaard aborda este elemento central de sua filosofia, entendendo a angústia como um componente fundamental da constituição do homem. O Homem, no si mesmo, está implicado necessariamente na angústia, que não é um mal externo que o acomete, mas algo positivo que o compõe. Como dizia Kierkegaard, nem Deus nem os anjos têm angústia. Ela consiste na dor do homem ter que tornar-se si mesmo, pois a existência traz consigo a tarefa de decidir o tempo todo e decisão é cisão, ruptura. Não podemos ter nem escolher tudo e não controlamos todos os acontecimentos, pois a existência é um fluxo de possibilidades que demanda escolhas contínuas. Neste contexto a Angústia é o elemento que move nossa potência, pois é a partir dela que buscamos saltos para estados de maior realização pessoal e crescimento.
Já em “O Desespero Humano (Doença até a Morte)” de 1849, Kierkegaard aborda o desespero a partir de outra perspectiva. Contrariamente à angústia, o desespero não é um elemento constitutivo do si mesmo, mas um desequilíbrio entre os elementos constitutivos do indivíduo que o impede de se realizar na sua plenitude, impedindo os saltos que movem a existência.
Ora, considerando então que a angústia seja um elemento natural compatível com os desafios da tarefa de existir e a ansiedade uma resposta natural adaptativa, por que se tornaram inimigos a serem combatidos na modernidade? A Psicofarmacologia, que procura circunscrever objetivamente o que caracteriza a angústia e a ansiedade e quais seriam as suas causas para eliminá-las com medicamentos, ganhou enorme importância com os robustos financiamentos da indústria farmacêutica e a guerra das patentes no processo de medicalização.
É importante diferenciarmos o medo da ansiedade. A ansiedade está geralmente associada a uma ameaça desconhecida, interna, vaga e conflituosa, insidiosa, representando normalmente Conflitos Intrapsíquicos (Eu e o mundo interno). Já o medo se refere a uma ameaça conhecida, externa, definida e sem conflitos, súbita, representando normalmente Conflitos Interpessoais (Eu e o mundo externo).
Os transtornos de ansiedade, de acordo com o DSM V, se diferenciam do medo ou da ansiedade adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento, sendo caracterizados por ansiedade e preocupação excessivas na maioria dos dias que o indivíduo considera difícil controlar. São comuns sintomas tais quais inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. Estes sintomas acabam gerando grande demanda nos serviços de saúde sem serem diagnosticados.
A ansiedade que nos acomete é produto da sociedade moderna e está impregnada em sua própria estrutura de funcionamento e na dinâmica de relação entre as pessoas, rápida, competitiva, superficial e digital. Além disto, não só se busca eliminar a angústia e a ansiedade como impor o discurso da felicidade compulsória, a ser compartilhada nas redes sociais e praticada nas organizações em programas motivacionais. Em “Modernidade Líquida” Zygmunt Bauman, nos alerta que as relações se tornaram fluídas e superficiais, sendo que a velocidade e as formas de comunicação se alteraram dramaticamente em um mundo digital cada vez mais desumanizado. A sociedade acaba por criar doenças crônicas em pessoas que não se adequam ao padrão que o sistema neoliberal as impõe, onde se tornou angustiante não ser produtivo. A todo momento os indivíduos estão sendo induzidos a fugir do ócio para produzir, pois os agentes do sistema disseminam a crença de que o fracasso é fruto da falta de trabalho e empenho, isto sem considerar os ambientes tóxicos de alta competitividade que predominam nas organizações.
Enfim, estamos doentes de nós mesmos e temos que refletir sobre que Filosofia queremos praticar para alavancarmos a potência de nossa angústia por meio do sentido de nossa existência, minimizando o desespero e normalizando a ansiedade. Na maioria dos casos não devemos tentar eliminar a ansiedade, pois isto pode gerar um círculo vicioso que traga mais ansiedade, retroalimentando o processo. Pelo contrário, devemos dançar com ela para entender seu movimento e deixar que flua como uma onda até que se esvaia. Caso tenha que lutar com ela, faça-o com golpes de judô, aproveitando o seu peso a seu favor, para que não tenha que combatê-la frontalmente com Rivotril e Lexotan.
Carlos Assis[1]
[1] Psicólogo Clínico e CEO da Philos Org..
Referências Bibliográficas.
— KIERKEGAARD, Soren A.. O Conceito de Angústia. 3a edição. Editora Vozes, 2015.
— KIERKEGAARD, Soren A.. O desespero humano: Doença até a morte. 1a edição.
Editora Unesp, 2010.
— American Psychiatric Association. DSM-5 – Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais. 5a edição. Editora Artmed, 2014.
— FREUD, Sigmund. (1996) Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago.. (1894e) “Sobre os fundamentos para destacar da
neurastenia uma síndrome específica denominada ‘neurose de angústia’”, v. III, p.91-120
Sociedade do Cansaço


O objeto de estudo do texto de Byung-Chul Han já foi, muito provavelmente, diagnosticado por todos os leitores: estamos cansados, esgotados, trocando os momentos de sociabilidade pelos de solidão e descanso. Porém, a exaustão em questão, não é a física — muito embora também estejamos acumulando funções de trabalho, faculdade, casa e lazer — é a mental.
Resumo
-
- O século passado foi desvelado pela psicanálise freudiana como repressivo, e viu suas instituições se derreterem nos dias atuais.
- A ideia de indústria cultural, desenvolvida por Adorno, ganha novos contornos com o movimento dataísta, encabeçado por nomes como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos.
- A proposta de despir o ser humano da sociedade capitalista enquanto tentativa de vivenciarmos o tempo de maneira diferente.
A sociedade vive a transição das suas estruturas de poder, que antes, com as prisões, asilos, manicômios, quartéis generais e hospitais, reprimiam e disciplinavam através da negação da vontade, e que hoje buscam a ampliação da expressão do indivíduo, abdicando dessas instituições em prol da liberdade da vontade. Esta é a grande característica do que o filósofo sul-coreano Byung Chul Han chamou de sociedade do desempenho: uma sociedade que, segundo afirma, só é possível com o desenvolvimento do discurso neoliberal. Diferentemente do século passado, onde a narrativa freudiana psicanalítica ganhou amplitude em um mundo extremamente repressivo, hoje vivemos numa civilização que é obrigada a correr atrás do si-próprio, da autenticidade, do “seja você mesmo”, e que se vê muito bem representada pela máxima de campanha de Barack Obama: Yes, we can.
Os avanços da técnica na atual sociedade vão muito além dos objetos que nos trazem alguma perspectiva de domínio da natureza; criam, também, a mentalidade de que tudo tem que ser mais eficiente, otimizado e racional. Esse modus operandi espalhou-se de tal maneira que não é mais possível pensar em outras alternativas de organização social que não obedeçam a essa temática. Contudo, o mundo da técnica é um mundo de meios, e não de fins, e acaba por criar indivíduos que, como disse Tolstói, “são capazes de caminhar por um bosque na primavera e só enxergarem lenha”.
Uma outra consequência do discurso técnico é o dataísmo, que é um movimento crescente no mundo de utilização de dados para influenciar escolhas. O tamanho da influência que a manipulação de dados tem na sociedade pôde ser percebida nas eleições norte-americanas de 2016 e brasileiras de 2018. Os eventos nos fizeram experimentar uma perspectiva interessante do ponto de vista existencial, pois, aparentemente, os humanos modernos gozam de muito mais liberdade que seus antepassados, porém, em contrapartida, não conseguem experimentar plenamente essa liberdade, uma vez que suas decisões estão sendo totalmente influenciadas.
Adorno dizia que é através da técnica que os mais ricos, detentores do capital, exercem seu poder sobre os mais pobres, utilizando-se dos veículos de massa para disseminar sua influência, alienando a vontade geral e induzindo os cidadãos ao consumo. A consequência direta é a produção de desejos, possibilitada pelas propagandas que criam uma padronização exagerada dos objetos desse desejo — todos passam a querer os mesmos carros, as mesmas casas, querem consumir as mesmas marcas, ou seja, se tornam fielmente iguais uns aos outros, mesmo quando acham que estão sendo autênticos.
A mídia cria a ideia de que somos únicos e especiais, que somos capazes de tudo desde que trabalhemos para conseguir. Porém, segundo Han, é também nesse movimento que os indivíduos caem na mesma vala da igualdade, buscando os mesmos objetivos, totalmente convencidos de que estão sendo os mais originais possíveis. Nota-se que mesmo na mais empenhada das pessoas existe certa dificuldade em conseguir, ou mesmo impossibilidade, uma vez que a mais original das buscas da produção do eu, passa muito menos por uma espiritualização e muito mais por uma tentativa de criação de “diferenças comercializáveis”. Vivemos na ditadura do igual.
Na busca desenfreada pela padronização dos indivíduos, em sua massificação, a sociedade acaba por criar doenças crônicas, como a depressão e o burnout, causadas em pessoas que não se adequam ao padrão que o sistema neoliberal as impõe. Mostra-se angustiante não ser produtivo. A todo momento os indivíduos estão sendo induzidos a fugir do ócio para produzir. O ser humano moderno é o principal ativo desse mecanismo, onde o sistema que o rege trabalha constantemente no constrangimento daqueles que, de alguma maneira, não se adaptam. Segundo Han, é possível concluir através desse raciocínio que a repressão agora vem de dentro, e não mais de fora. Não mais lutamos contra tiranos ou governos que nos reprimem. Agora nossa luta é interna, contra nós mesmos, pois os agentes do sistema atuam na disseminação da crença de que o fracasso é fruto da falta de trabalho e empenho. Dessa “revolução contra si mesmo”, desse tentar aniquilar um eu que naturalmente não se encaixa na roda, e de fabricar um novo personagem do qual somos atores, surge o que o autor chama de uma alienação de si mesmo, um esvaziamento de si próprio, um cansaço a níveis existenciais.
Por fim, o filósofo sul-coreano propõe que devemos começar a repensar nossa relação com o tempo. É preciso retomar o ócio como algo natural, ao invés de um “parar para recompor as forças e retomar a produção”, e fomentá-lo como um ócio original, despreocupado, que regenera, espiritualiza e nos põe em contato com nós mesmos e com a natureza que nos cerca, com propósitos macunaímicos de esvaziamento do alarido da cidade, da corrida contra o tempo; pois essa sociedade do desempenho, esgotada, esvaziada de seus propósitos, acaba se tornando o que o autor chama de sociedade do cansaço, que torna o doping cada vez mais comum na busca por potencializar a eficiência e a robotização do corpo humano, transformando-o em mais um instrumento a ser utilizado pela máquina na geração de ativos econômicos.
Jorge Luiz Sales[1]
Referências Bibliográficas
— HAN, Byung-Chul. A sociedade do cansaço. 1a edição. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2015.
— GELI, Carles. Byung-Chul Han:“Hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização”. Barcelona: El País, 2018.
— TOLSTÓI, Liev. Guerra e Paz. 1a edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
— ADORNO, Theodor W. Indústria Cultural. 15a edição. São Paulo: Paz e Terra, 2021.
[1] Mestrando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Graduado em licenciatura na mesma institução.